Services
On-line ISBN 85-86736-06-6
On-line ISBN 85-86736-06-6
An. 3 Col. LEPSI IP/FE-USP 2002
A criança: do organismo ao corpo
Esteban Levin 1
Nesta oportunidade2, proponho-me a construir um saber. Em outras palavras, se eu já soubesse o que tenho a dizer, só poderia lhes dizer aquilo que já sei, e o que me proponho aqui é transmitir-lhes o que não sei mas que causa um saber que se produz em ato, no ato mesmo da transmissão. É, talvez, a construção de um estilo que nos põe em cena.
Felizmente, com a criança acontece algo semelhante, pois nenhuma criança entra em cena sabendo de antemão o que vai representar. Ao contrário, nesse "destempo" que caracteriza a infância, a criança lança-se primeiro a brincar, a criar, a inventar mundos imaginários que, sem dúvida, ela não sabia previamente que inventaria. As crianças mostram-nos esse misterioso espaço do não-saber e da curiosidade que causa o fazer delas. Esta dimensão em que a criança põe em cena seu corpo para construir suas representações - as quais, por sua vez, irão representá-la -, é a que tentamos resgatar da infância como posta em ato do sujeito.
Uma criança é no ato que a produz, fazendo de sua produção um espelho que lhe permite, por um lado, se reconhecer, ao mesmo tempo que, por outro lado, se desconhece. Este paradoxo inquietante permite-nos compreender a infância nas cenas mesmas que a vão estruturando.
Chamou-me sempre a atenção o fato de que, quando a criança se lança a brincar em cena, ninguém lhe ensina como e de que maneira brincar. Se a criança sabe brincar, ninguém terá lhe ensinado a fazê-lo, pois na raiz desta encenação, a criança desconhece o que está produzindo nesse lugar. Esse desconhecimento é o que causa o conhecimento: uma criança brinca de se desconhecer como ela própria e de se conhecer desde o outro que ela (paradoxalmente) representa.
Por exemplo, se brincando, construindo ficções e artifícios, a criança se transforma em Batman, em polícia ou em bandido, desde estas personagens a criança pode jogar "sem se dar conta" os seus segredos, o que não se explica (como, por exemplo, a morte), os seus medos, a violência, a agressividade, a ambivalência, o amor, a sexualidade. E precisamente pode fazê-lo "porque é de brincadeira", é "de mentirinha", não é desde ela que a criança brinca, é desde um outro. Criando suas personagens, a criança constrói a mascarada em que encena, em que brinca o segredo oculto de ser um outro para se produzir ela mesma nesse fazer significante. Fazendo-se um outro, ela pode jogar o que acontece com ela sem se arriscar a perder seu lugar, sua posição e, desta maneira, pode construir sua infância.
Gostaria de colocar que, sem dúvida, quando uma criança está angustiada ou tem algum mal-estar, o espaço que se encontra mais questionado é o da ficção e invenção, já que, para construir uma ficção, a criança tem que inventar e, para fazer isso, tem que poder produzir um vazio simbólico, que preencherá precisamente com imagens, personagens, criações, ficções. A criança sustenta-se nestas imagens que não existiam e que ela irá criando à medida em que vai brincando. Face ao mal-estar que a incomoda, esta construção se encontra em perigo e, muitas vezes, a criança permanece fixada em imagens rituais que começam a reproduzir o mesmo sem diferenciação.
Nestes casos, a criança não deixa de produzir imagens, mas estas a representam sempre no mesmo lugar. Detida ali não pode criar, não pode gerar novos artifícios nos quais se representar. Talvez seja este um dos problemas mais urgentes e atuais de nossas crianças: produzem imagens, mas estas imagens se transformam em "espelhos de uma face só", isto é, as crianças se olham sempre no mesmo espelho em que ficaram fixadas. Sem dúvida, estaríamos assim em presença de um mal-estar que se poderia configurar como um sintoma ou como uma posição, detida no discurso. Evidentemente, os efeitos deste posicionamento terão repercussões importantes no corpo e no desenvolvimento da criança.
Nós que trabalhamos com crianças que possuem alguma problemática orgânica de tipo neurológico ou genético, deparamo-nos dia-após-dia com a crueza de uma realidade paradoxal. Por um lado, os avanços tecnológicos e científicos permitem-nos vislumbrar e precisar novos diagnósticos e tratamentos específicos para cada patologia; por outro lado, este mesmo desenvolvimento científico-técnico que nos apresenta a cultura da modernidade, acalma, esvazia a existência de um sujeito transformando-a em anônima, em uma busca denodada e eficaz da cura do orgânico.
Mas, o que é que persiste para além do soma, do organismo? O que persiste, conformando esse corpo não somente como organicidade, é uma imagem. O que persiste não é exatamente uma imagem de órgão, mas de corpo em cena, em um cenário simbólico.
Afirmamos que uma imagem se conforma a partir de uma imagem do Outro que não é ele mas que lhe permitirá sê-lo. Ser uma imagem do Outro para poder ter uma imagem e um esquema corporal próprios. A primeira imagem da criança está no Outro, que não olha nem para seus órgãos nem para suas funções, nem para seus componentes bioquímicos ou físicos, mas cujo olhar se detém em um sujeito em gestação, em constituição.
Esse olhar desejante que esse Outro (materno) transfere para ela, não permitirá à criança se refletir em seu desenvolvimento muscular, tônico ou funcional, mas em um lugar impossível de tocar, intangível, invisível para os sentidos, um lugar que carece de realidade tangível e visual. É uma posição subjetiva que insiste e consiste real, imaginária e simbolicamente.
É justamente esta posição simbólica que o outro reflete e refrata em cada olhar, em cada gesto, em cada toque amoroso o que insiste e investe o bebê não como organismo de uma espécie mas como sujeito de seu destino próprio e singular.
Não nos esqueçamos de que uma das primeiras propriedades de um corpo é a de ter um nome próprio (e este nunca poderá ser o de uma síndrome ou uma patologia), que nomeie a criança em relação aos outros em uma série filial e genealógica, a partir da qual estruturará uma imagem. A partir da imagem corporal, a criança configurará seu funcionamento motor, verbal, cognitivo e, desta maneira, seu funcionamento cênico de filho-criança.
Esta posição não envolve desconhecer a organicidade de sua problemática, se a tiver. Ao contrário, procuramos que a criança a encene em suas produções lúdicas e abrimos um espaço para que o discurso parental a respeito desta problemática possa se re-significar em um marco cênico simbolizante.
Estas são as razões pelas quais nunca trabalhamos com um instrumento ou um desenvolvimento psicomotor ou um deficiente, pois a criança nos convoca a nos introduzirmos na sua história subjetiva, a história de sua imagem corporal, na qual o desenvolvimento neuromotor se articula na estruturação de um sujeito. É o que denominamos pontos de encontro entre a realidade neuromotora do desenvolvimento (herança genética) e o campo da estruturação subjetiva (herança simbólica).
O trabalho com a família não é fundamental só porque se trata da criança, mas também porque, possuindo a criança uma patologia neurológica, o efeito de implosão e fratura que a mesma gera, provoca não só uma quebra na imagem parental acerca do filho, mas também uma fratura na posição que a criança representa para os pais. Isto leva a questionar o que denominamos a função e o funcionamento cênico do filho.
Recuperar o eixo filial que leva consigo o funcionamento cênico da criança enquanto filho implicará necessariamente transitar pelo caminho da re-significação e do luto. Neste caminho serão centrais o âmbito clínico e o educacional, como espaços abertos à escuta e compreensão da dor e o pesar profundo que a fratura da função do filho gera nos pais.
O trabalho de elaboração dos pais é uma construção que não ocorre em um momento só, mas que, ao contrário, requer espaços interdisciplinares nos quais os pais possam encenar seu sofrimento em distintos cenários (entrevistas para pais, seminários, comissões cooperadoras, oficinas), em que possam elaborar a dificuldade e a problemática próprias, que envolvem recuperar o filho em seu funcionamento cênico e filial e, com ele, sua herança simbólica.
Para a criança, o risco sempre latente seria o de que ela armasse e construísse sua identidade, identificando-se com sua deficiência; que fizesse própria sua patologia como o traço que a nomeia, como o patológico. Se isto acontecer, a criança seria o gozo sinistro do órgão, que se reflete sem virtualidade no estigma que, assim, a designaria.
Através do trabalho com a criança, procuraremos que ela se institua em uma imagem cênica que, como efeito dramático e não traumático, lhe possibilitará enlaçar uma história que nunca será orgânica, já que o destino de um sujeito nunca poderá ser o de sua patologia neuromotora.
A atual cultura da modernidade também questiona o espaço de ficção e artifício próprio da infância. Em geral, vivemos em um mundo em que temos quase tudo estabelecido e no qual tratamos de eliminar aquilo que nos surpreende exatamente porque não estava "dentro do que deveria acontecer". Não há muito espaço para criar o novo, mas sim para reproduzir o que a norma, a técnica, os livros ou a modernidade já estabeleceram de antemão. Em geral, isto acontece conosco na vida, e muito mais quando de crianças se trata. A história das crianças demonstra quão variáveis elas foram à determinação cultural na qual se desenvolveram. Como todos sabemos, e sem entrar em detalhes, o conceito de criança, com todas as representações que conhecemos atualmente, é uma concepção bastante recente, posto que tem sua origem em fins do século XVII e começos do XVIII.
A partir desta concepção moderna da criança e da infância até a atualidade percorrera-se um caminho intenso que situou a criança em uma posição que nunca tinha ocupado nos séculos precedentes. Não sei se podemos chamar isto uma conquista ―pois não saberia dizer quem é o conquistador nem o conquistado―, mas afirmamos sim que a atual posição da criança-filho ocupa um lugar central e fundamental em nossa cultura.
Neste sentido, a criança não é uma preparação para o futuro, tal e como se proclamava em outros séculos, mas é o futuro de um passado e, portanto, um presente articulado. Que estranho! Que loucura chamar a criança de presente articulado! Mas, na verdade, parece que é assim, pois a criança, em sua função de filho, ao se colocar em cena, presentifica uma anterioridade lógica, cria uma genealogia e antecipa um futuro em um passado (futuro anterior). A criança é o outro do adulto, nosso outro, assim como, em outro plano - certamente no especular -, o adulto é o outro da criança.
Nós que trabalhamos com crianças sabemos que só podemos entender a infância a partir da nossa, e que, sem dúvida, se nos dedicamos aos problemas das crianças é porque nossa infância continua a nos fazer perguntas. Neste sentido, deveríamos refletir sobre alguns destes interrogantes do nosso fazer, do nosso trabalho com as crianças.
Um dos problemas com que nos defrontamos é que nos ensinaram como é e como deveria ser uma criança, diferentemente de como são realmente as crianças com que trabalhamos todos os dias. Porque, ao nos encontrarmos quotidianamente com uma criança, percebemos que elas nunca são o que nos disseram e nos ensinaram que eram. Tomamos consciência, então, de que uma criança nunca está nos livros. Quando afirmamos que não estão nos livros queremos dizer que não estão em uma técnica nem se encaixam sempre em uma teoria, uma planificação, um conteúdo ou uma supervisão. De fato, há uma distância enorme entre aquilo que supomos que possa acontecer com uma criança e possa nos acontecer com uma criança, e aquilo que efetivamente ocorre.
O que a infância nos mostra e nos ensina constantemente é um certo grau de incerteza e indeterminação que marca sua essência. Aqueles que trabalhamos com uma criança (caberia esclarecer que nunca trabalhamos só com ela, pois sempre estão em jogo os pais da criança ou a família, e o contexto em que a criança se põe em cena estabelecendo um laço social, como, por exemplo, a escola) estamos imersos em uma urdidura e uma trama incerta, pois os fios desta rede se tecem fazendo nós em determinadas dimensões ao se colocarem em cena. As referidas dimensões põem-se em jogo se nós nos arriscamos a tentar nos envolver e permanecer no mundo da criança, sem lhe impor nossos preconceitos e supostos a respeito do que ela está tramando.
Uma criança não está em um esquema, nem em uma etapa ou estádio, nem na técnica, pois só ao se colocar em cena, em um cenário certamente simbólico, a criança inventa o que não está, o que não conhece, o que lhe parece inapreensível, o que não pode assimilar, o que é incompreensível para ela; e então, inventa uma irrealidade, uma ficção, um novo artifício no qual possa se representar diferente. E são essas as diferenças que a técnica não pode capturar, as que a teoria não consegue cingir, as que a cronologia não pode assimilar. Neste universo, o que a criança cria, cria, por sua vez, a criança.
Se permitíssemos, a criança seria uma inventora: inventa imagens, contos, aventuras, personagens que, sem ela perceber, também a inventam em imagens que se transformarão em representações. Ao criá-las, estas verdadeiras produções criam a criança.
O que a criança não sabe é que inventando produz um enigma que ao mesmo tempo é produto e causa dela. Neste sentido, a infância marca essa singularidade da criação do enigma que produz e causa a criança. Nesse momento, o enigma não é interpretável para ela, ele só se põe em cena e fazendo isto, em um uso além do uso, a criança o reprime representando-o.
A criança inventa brincando ou brinca inventando. Sem esta dimensão ficcional e cênica o universo representacional da criança não se pode constituir; daí que, muitas vezes, as crianças que nos consultam, que nos demandam, nos mostram essa terrível dificuldade de inventar se inventando na cena, de fazer uso de um objeto que, ao produzi-lo a criança, também a representa. Nesta detenção aparece a fixidez da representação ou a angústia da impossibilidade de localizar fora do corpo (isto é, em uma cena) o que acontece com a criança.
A dificuldade ou impossibilidade da invenção cênica marca a pobreza do universo representacional simbólico da criança, pois se ela não inventa, não pode se desdobrar, se metaforizar em outras cenas, não pode tecer sua rede. As invenções são metáforas vivas em cena, cuja vida é a ficção que as causa, ao mesmo tempo que as instala inventando-as.
A prova disto está em que, quando a criança inventa, após fazê-lo já não é a mesma; pois para inventar precisará associar, misturar, relacionar termos de diferentes calibres, de distintas texturas, para criar outras texturas insuspeitadas. A criança não sabe o que vai criar quando se lança a fazê-lo; exatamente é isto o que causa a criança e define a riqueza de sua invenção. Uma vez que inventa, a criança já não é a mesma. O inventor metamorfoseia-se em inventado.
Uma outra dimensão da invenção em cena para a criança é o descobrir. A descoberta des/cobre a criança e torna a cobri-la com seu próprio véu, com sua própria máscara. Eis sua magia. A criança descobre o mundo através de seus próprios inventos. Talvez seja este o único momento em que o sujeito é ator de suas descobertas no ato de se pôr em cena.
Neste cenário simbólico de produções inesperadas, neste fazer significante, as sensações da criança (proprioceptivas, sinestésicas, interoceptivas etc.) estão em função dessa descoberta vital, em que se põe em jogo seu corpo na estruturação subjetiva, se estruturando.
Assim, a criança ama o misterioso porque não sabe o que é; ama o que ignora, o que não pode compreender, o que não pode tocar, o que não pode assimilar. Este pequeno apaixonado pela ignorância delimita no outro adulto seu próprio não-saber com suas sempre incipientes perguntas sobre o impossível (como, por exemplo, a morte).
Felizmente, a criança encontra a resposta a este interrogante através do jogo e dos brinquedos que inventa, criando-os. Ao brincar de morte, ela dói menos e, ao mesmo tempo, é possível "zombar" dela, encarnando-a "de mentirinha", fazendo-se de morto. Mas, às vezes (e eu diria que quase sempre), para poder brincar de morte a criança nos pede (a adultos, terapeutas, educadores, pais etc.) que nos deitemos junto com ela no chão, que nos façamos de mortos, porque a única forma que tem de brincar de morte é que nós brinquemos com ela, que a acompanhemos no jogo fazendo-nos de mortos. Seria algo como brincar de morte para continuarmos a estar vivos e, desta maneira, nos sentirmos mais aliviados em relação a ela.
Assim, a criança pode brincar de morte e, desta maneira, representar para si mesma a morte. Mas, para isso, muitas vezes precisa de nossa presença e do nosso corpo em cena para representá-la. Nestes casos em que a criança brinca com o impossível, as palavras não são suficientes para ela; a criança precisa também de nosso corpo para pôr em cena sua imagem do corpo sem que essa imagem se encontre tão ameaçada, pois o risco maior é ficar sem ela. Sem a imagem do corpo, a criança fragmentar-se-ia no real.
Em nossa clínica, colocamos o corpo para que a criança ponha o seu em cena ?
Diferentemente do que nos propõe a modernidade, que considera a ficção e o jogo como passatempos, um simples entretenimento (no qual a criança fica entre-tida, por exemplo, frente à televisão, aos video games), nós propomos que, para a infância, o tempo não transcorre cronologicamente, mas que se re-significa. Ali onde a modernidade nos diz que há um simples passatempo, a criança constrói, nessa inutilidade do tempo, sua re-significação. Ali onde, ao brincar, a criança está perdendo o tempo, é ali mesmo onde mais está a criança.
No tempo inútil e ineficaz para a realidade da modernidade, a criança cria sua "inútil" irrealidade; onde cria suas ficções, seus brinquedos, seus sonhos, suas fantasias, seus contos, seus artifícios, suas aventuras. E uma criança é apaixonada pelas aventuras exatamente porque não sabe o que vai acontecer. É isto o que possibilita à criança a construção de seu saber, pois ela está brincando a aventura que ela própria inventa, se inventando na cena.
(Tradução Viviana Gelado)
Referências Bibliográficas
Barthes, R. (1987). Mitologias. São Paulo: Bertrand Brasil e Difel.
Freud, S. (1914). "Sobre la psicología del colegial". In Obras completas. v. XIII. Madrid: Amorrortu.
Lacan, J. (1988). Escritos I. Buenos Aires: Siglo XXI.
Levin, E. (1997). A infância em cena. Constituição do sujeito e desenvolvimento psicomotor. Petrópolis: Vozes.
Levin, E. (2001). A função do filho. Espelhos e labirintos da infância. Petrópolis: Vozes.
1 Psicanalista, Diretor de Escuela de Formación en Clínica Psicomotriz de Buenos Aires.
2 Intervenção na Mesa de Debate "Psicanálise, família e problemas de desenvolvimento" no IIIº Colóquio do LEPSI.

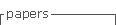









 How to cite this paper
How to cite this paper