Serviços
ISBN 85-86736-12-0 versão
on-line
ISBN 85-86736-12-0 versão on-line
An. 4 Col. LEPSI IP/FE-USP Out. 2002
Quando tratar implica em educar: a clínica com crianças autistas
When to treat means to educate: the clinic with autistic children
Leda Mariza Fischer Bernardino
Psicanalista, membro fundador da Associação Psicanalítica de Curitiba, analista membro da Association Lacanienne Internationale, professora doutora de PUCPR.
RESUMO
O trabalho traz reflexões sobre os momentos de intersecção entre as intervenções educativa e clínica no tratamento de crianças autistas, no qual se trata de inserir estas crianças no campo simbólico. Apresenta alguns fragmentos clínicos para ilustrar estas situações, mostrando como o que é em princípio pedagógico pode ser lido, a posteriori, como ato analítico.
Autismo - clínica psicanalítica - educação.
ABSTRACT
This paper brings reflections about the moments of intersection among the educative and the clinic interventions in the treatment of autistic children, where it’s necessary put this children in the Symbolic field. It presents some fragments clinics to ilustrate this situations where the pedagogical intervention may change to analitical act.
Autisme - clinic psychoanalytic - education.
Na clínica psicanalítica com crianças autistas, são comuns as situações nas quais o analista se vê convocado a intervir de modo educativo, mais no sentido do "educar" do que do tratar. Mesmo partindo de um ponto de vista mais amplo sobre o conceito de Educação, como forma de inscrição no campo Simbólico, não raras vezes há um constrangimento do analista diante destas situações, na clínica.
Seria possível ocupar, ao mesmo tempo, o lugar de educador e de psicanalista - lugares antagônicos, como Freud (1932) bem o demonstrou na sua Conferência 34?
E quando se trata de acompanhar o processo escolar de um pequeno paciente autista, cuja escola espera orientações - que tipo de intervenção seria possível?
Com relação aos pais, nas entrevistas que temos com eles, como não ocupar o lugar de saber que nos atribuem, se justamente nos demandam orientações para ocupar o lugar de pai e mãe deste filho que os desconcerta?
Sabemos que o autismo é uma estrutura, decorrente do mecanismo da elisão, que exclui a criança do campo Simbólico. Há uma falha na operação de alienação proposta por Lacan, e a criança não se encontra com um significante que a represente na linguagem - não há S1 que inaugure sua posição como falasser (1).
Trata-se de uma criança refratária ao significante e que tem uma recusa ativa ao Outro e ao outro. O primeiro "lugar" que ela vai dar ao analista é o de nada, de ninguém.
Vou, de saída, situar uma interrogação aí: por que será que um psicanalista se propõe a suportar isto, por que se aventura nesta clínica?
A resposta que encontrei - além, é claro, do desejo de "curar" que perpassa toda vocação terapêutica, e do encontro da Psicanálise como um dos Nomes-do-Pai possíveis - é que se trata de uma "fascinação pela loucura", enquanto possibilidade de liberdade e criação.
O universo da loucura dispõe da liberdade mais ampla - como ressaltou Lacan (1946), em Proposição sobre a causalidade psíquica, e os surrealistas confirmaram. Liberdade de escapar dos padrões da cultura e da linguagem que nos constituem - ao mesmo tempo que nos engessam.
Entretanto, assim como o desejo de curar - que se espera que desmonte aos poucos na análise pessoal - esta fascinante loucura logo apresenta sua outra face.
As "crianças pouco normais" sofrem. As crianças psicóticas sofrem porque esta liberdade se traduz em aprisionamento nos imperativos do Outro real que as captura - pela via do corpo ou da holófrase. As crianças autistas, por sua vez, porque não escapam da colagem nos objetos e da submissão às estereotipias que lhes servem para sustentar a fragilidade de um corpo sem imagem e de uma existência sem nome.
Diante destas crianças, se buscamos a fascinação da loucura, o que encontramos é o efeito transferencial desta liberdade, desta saída dos parâmetros das leis da linguagem, ou seja: ficamos completamente perdidos, sem saber que rumo tomar.
Acompanhar a criança em sua loucura? Nem pensar. Seria entrar em território desconhecido, sem bússola que nos pudesse nortear.
Pretender "tirar" a criança de sua loucura? É o famoso "furor curandis" sobre o qual nos alertava Freud. É o caminho da intervenção imperativa: impor à força Nome-do-Pai, significações, interpretações, à la Melanie Klein versus Dick (2).
O que se pode propor, então?
Primeiramente, um campo transferencial movido a desejo de analista, que instaure uma antecipação subjetiva e a fundação de uma demanda.
Em segundo lugar, seguir a criança nas possíveis brechas que poderão se produzir no seu fechamento ao Outro - que sabemos raramente ser total -, de modo a descobrir, com ela, um significante que possa representá-la.
Estas propostas encontrarão dois obstáculos principais:
1. a relação de colagem que a criança autista mantém com os objetos;
2. a posição transferencial que a criança autista designa ao analista, como já citamos: de ignorar sua presença e as demandas que partem dele.
Ora, se nesta clínica não há transferência nem demanda, por parte da criança, cabe ao analista criar as condições mínimas para que haja algum trabalho possível. Neste sentido, as proposições de Anna Freud (1926) ganham relevo, embora não se trate - como ela o propõe, para crianças neuróticas - de preparar a criança para tornar-se uma analisante. Trata-se de um trabalho anterior e muito mais primitivo: criar condições para o surgimento de uma criança, na verdadeira acepção do termo.
Assim, vemos delinear-se nesta clínica suas bases educativas: a demanda do analista é de que venha a se produzir um humano em sua acepção mais verdadeira: um falasser. Para tal, é necessário que uma Educação tenha lugar ali.
Evidentemente, não se trata de uma concepção simplista da Educação, como aquela que dá sustentação às propostas de trabalho de modificação de comportamento, por exemplo. Não se vai produzir condicionamentos nem introduzir a criança em um sistema de programação qualquer - neurolingüística ou de sinais imagéticos (estilo método TEACCH) - códigos pré-fabricados que, ao invés de convidar a criança a ocupar um lugar de falasser, condenam-na a viver colada também a imagens, comportamentos adaptativos e anônimos.
Como demonstraram Donald Winnicott (1972) e Maud Mannoni (1976), bem como Bruno Bettelheim (1981), a liberdade da loucura pode dar lugar a efeitos de criação, ao abrigo de um registro fálico mínimo, balizador deste caminho, para que possa ser trilhado no coletivo e na cultura, e não na marginalidade das soluções patológicas.
O espaço analítico pode sediar a produção de uma construção, no sentido freudiano do termo: uma invenção a partir dos fragmentos de que se dispõe.
Então, primeiro precisamos ser como arqueólogos - e buscar o saber da criança. Em sua história, na história da sua família, em seus atos, seus objetos, seus gritos. Mesmo que sejam - como é geralmente o caso - apenas vestígios ou mesmo ruínas familiares. A partir de então, talvez novas significações se produzam.
O que também sabemos, pela transmissão dos psicanalistas que se aventuraram nesta clínica da psicose e do autismo, é que não há caminho direto para a invenção, sem passar pelas regras fálicas. Em outras palavras, não há sublimação sem a presença mínima do recalque. É preciso estar minimamente inscrito na cultura para poder utilizar os significantes aí disponíveis.
Chegamos então, mais uma vez, à questão do educar: na clínica do autismo, os analistas trabalham para a produção do recalque... tarefa-mor da Educação.
Vejamos como isto pode se dar.
É necessária uma etapa preliminar - a do acolhimento da loucura. Ao abrigo do setting analítico, que funciona como continente, as defesas podem colocar-se, abrandar-se e até mesmo ser abandonadas por alguns momentos - as estereotipias, as colagens objetais, o delírio motor...
Mas um acolhimento sem fim criaria uma situação de gozo - analisante e analista compartilhando um gozo fora da linguagem, onde se alternariam os lugares do imperativo do gozo (supereu arcaico) e do objeto, entre os dois personagens.
Vai ser preciso dizer "não" a este gozo, no sentido da Verneinung, a denegação freudiana (Freud, 1925): negar o que é do gozo para afirmar, no mesmo ato, o que pode vir a ser do sujeito... da linguagem.
Tomemos uma vinheta clínica para ilustrar. Giovani pega seus objetos autísticos - lápis coloridos - para, mais uma vez, espalhá-los pelo chão e quebrar suas pontas, pegando então estes pedacinhos de cor destacados dos lápis para enfiá-los nos buracos de uma cadeirinha - um de seus rituais. A analista, por seu lado, fracassara em todas as hipóteses propostas até então para tentar alguma significação possível para esta seqüência. Exaurida pela repetição e finalmente irritada pelo dano aos lápis, enuncia um impaciente "não! Os lápis de cor são para desenhar, pintar..." . Giovani a olha, espantado.
Eis que a referência fálica, a "normalidade" se impõem: "Chega de loucura!"
Intervenção pedagógica? Sim, claramente pedagógica: explicação da utilidade dos lápis!
A analista saiu de seu lugar? Saiu. Não se tratou de uma escuta, nem de uma interpretação, ou pontuação... Do que se tratou?
Foi dito não à repetição do ato e ao mesmo tempo sim, para um possível sujeito de uma expressão simbólica.
Qual foi o efeito? O da denegação mesmo: Giovani esboçou o movimento de quebrar a ponta de outro lápis, mas desta vez olhou antes para a analista, esperando sua reação, antecipando-a . A analista disse novamente "Não!" e ofereceu-lhe uma folha em branco: um convite para que passasse do corpo à letra. Giovani pegou desajeitadamente o lápis e fez alguns rabiscos no papel, que colocamos na parede: "uma marca dele", disse-lhe. Seu primeiro desenho.
Reflitamos sobre o efeito desta intervenção pedagógica: produziu uma expressão subjetiva, tímida, vacilante, enigmática. Mas se poderia dizer, da folha rabiscada e colada na parede: um sujeito passou por ali, fez diferença, marcou algo.
Só-depois podemos dizer: intervenção educativa que teve estatuto de ato analítico e não "corretivo".
Com este exemplo simples, podemos ilustrar o título deste texto: na clínica com as crianças autistas, tratar implica em educar.
Neste caso, o lugar de educador e o lugar de analista não são antagônicos: o primeiro faz surgir o segundo!
No caso da ilustração, a partir deste momento que acabamos de relatar, passou a haver uma busca - por parte de Giovani - de uma maior proximidade com o corpo da analista, o que leva a antecipar uma possibilidade de relação de objeto - e não mais somente colagem nos objetos. Possibilidade de inserção do corpo em um universo de significantes - e até, (quem sabe?) de recalque.
O que faz a diferença, então, entre um educador e um psicanalista de crianças psicóticas ou autistas?
É a posição enunciativa do analista - amparada pela transferência com a psicanálise e pelo setting analítico, que sustentam a intervenção no singular de cada caso - diferente da posição dos pais e dos professores.
Esta posição implica distinguir também o desejo dos pais, dos professores e do analista, em seu papel de educadores da criança.
Nos pais - em um contexto não patológico - todo ato educativo tem valor de inscrição na filiação e, portanto, de transmissão de uma falta: o que aos pais faltou realizar, o que os mantêm faltantes e desejantes de filho. Trata-se de um desejo de filiar, portanto. Desejo este que se desorganiza na clínica das psicoses, e está praticamente ausente na clínica do autismo.
No professor encarregado da educação escolar, educar é um ato sempre referido à coletividade: trata-se de um desejo de inserir no campo da cultura, nas regras da boa fala, da boa escrita... É um desejo de normativizar. Por isso, diante das crianças fora das normas, este desejo é posto à prova ao extremo.
Para um analista, trata-se de um desejo de que surja desejo, de que advenha um sujeito desejante ali - e é este desejo que sustenta o tratamento, nesta clínica. Em outras palavras, e utilizando o exemplo acima, o enunciado sobre a utilidade dos lápis-de-cor não remete à normatização do uso escolar dos lápis, mas ao desejo (do qual a enunciação do analista é o garante) de que a criança use os lápis-de-cor para escrever, desenhar ou pintar como formas possíveis de se expressar singularmente, através de uma linguagem.
Pensemos agora em outra situação onde tratamento e educação se cruzam: o analista é chamado à escola para falar sobre seu pequeno paciente autista.
Vamos novamente recorrer a um fragmento clínico: José não parava dentro da sala de aula, diferentemente de seu comportamento no ano anterior, quando teve uma boa adaptação. Algumas vezes era encontrado na sala onde estava sua antiga turma - com a qual não continuou por uma decisão tomada conjuntamente pela escola e pelos pais, de mantê-lo mais um ano no mesmo nível, em função de seu desinteresse pela alfabetização. O pedido da presença da analista relacionava-se ao manejo desta situação: como fazer para manter José na sala de aula? À analista coube recuperar, juntamente com a professora e a orientadora educacional, o percurso enunciativo de José na escola, apesar da ausência da linguagem oral: o que ele poderia estar comunicando com seu comportamento? E aí se produziu sua primeira experiência como falante na escola: ele "disse" alguma coisa com suas atitudes, alguma coisa que falava de seu "desejo", e as pessoas da escola puderam ouvi-lo, inclusive reconhecendo-o em um lugar novo: de produtor de demandas. No caso, a de continuar com sua turma do ano anterior, com crianças de sua faixa etária, e de entrar no processo de alfabetização junto com elas.
Qual pode ser a intervenção do psicanalista, na escola de seu paciente? Justamente ocupar o lugar de terceiro, de intermediário, entre o que o aluno põe em ato para dizer algo e o que a escola pode escutar disto. Trata-se de um papel de sustentação do lugar potencial de falasser do paciente e de transmissão de uma escuta possível deste dizer que não é verbalizado, a ser exercida no meio coletivo que é a escola, ao estilo de cada professor, de cada orientador e segundo a abordagem que caracteriza a escola.
Será que a saída do consultório e a ida à escola representa, no contexto da análise de José, uma saída da posição de analista? Parece, antes, que o que ocorreu foi muito mais algo como "o setting analítico foi à escola", através da encarnação que a analista pôde fazer, perante estes profissionais da Educação, de um lugar de palavras e de escuta. Os profissionais em questão, por sua vez, tiveram abertura para transformar isto em um manejo pedagógico da situação-problema.
Vejamos agora o que acontece de educativo na relação do psicanalista com os pais das crianças autistas que ele atende, novamente apelando à clínica. Observemos um fragmento de uma sessão conjunta de Vítor com sua mãe:
- "Vítor está sempre assim, calado, fechado no mundo dele".
- "Tem mais alguém, na família, que é assim, calado?"
- "... Ah, sim! Meu marido sempre foi fechado e meu filho menor está demorando para falar".
- "Vítor é como os outros homens da família?" .
Em outra sessão, desta vez apenas com os pais de Vítor, eles relatam as dificuldades com a alimentação do filho:
- "Ele só come macarrão e hamburguer, não aceita mais nada".
- "Como são as situações de alimentação?"
- "Ah, ele come antes, é a empregada que lhe dá de comer, pois ele não pára sentado na cadeira, fica andando de um lado para outro, não deixa ninguém comer, a gente tem horário..."
A analista pergunta, muito surpresa: "Vítor não faz as refeições com a família?"
- "Não, por que?"
- .........................
- "Você acha isto importante?"
- "Bom, o momento das refeições é um dos momentos em que as famílias se reúnem, conversam, compartilham sua vida..."
Como se pôde ver, estes dois exemplos trazem intervenções orientadoras, que poderiam ser classificadas como educativas, mas sem as quais não se produziria o efeito de autorização destes pais, desorientados por este filho nas suas funções materna e paterna.
O trabalho com os pais, como se tentou ilustrar com estas situações simples, implica um duplo reconhecimento, nos registros Real, Simbólico e Imaginário:
1º) reconhecimento dos pais enquanto pais - uma autorização no sentido de que, além de serem os pais reais desta criança, podem sê-lo (imaginariamente) e devem sê-lo (simbolicamente);
2º) reconhecimento do filho enquanto filho - uma apresentação deste filho como portador dos traços familiares (imaginários), como parte da série de filhos da família (filiação simbólica) e como uma criança (no real de seu corpo) e não um "autista", um "psicótico", "um Down".
Trata-se do processo de construção de uma relação de filiação, que para os pais está rompida em algum ponto e este filho vem justamente representar esta ruptura.
Para provocar, gostaria de concluir com um versinho de infância que sintetiza aquilo que um analista pode transmitir para um autista sobre o que é ser uma criança na verdadeira acepção do termo:
"sou pequenininha, do tamanho de um botão,
carrego papai no bolso e mamãe no coração",
Além disso, desse versinho podemos tirar as condições necessárias para um analista se aventurar no tratamento de crianças autistas, quais sejam:
- uma capacidade de regressão e de identificação com o que há de mais arcaico na infância,
- uma reconciliação com a figura materna e com a maternagem,
- uma possibilidade de contar com um pouco de Pai ao qual recorrer nos momentos de perda de rumo, e
- uma disposição para brincar, posto que é o terreno mais fértil para encontrar os significantes, em todas as suas versões!
Referências
BETTELHEIM, B. La fortaleza vacía. Barcelona, Laia, 1981.
FREUD, A . (1926) O tratamento psicanalítico de crianças. Rio de Janeiro, Imago, 1972.
FREUD, S. (1925) A Negativa. In O ego e o id e outros trabalhos. Obras completas, ESB, vol. XIX. Rio de Janeiro, Imago, 1972.
________ (1932) Conferência 34. In Novas conferências sobre psicanálise. Obras completas, ESB, vol XXII. Rio de Janeiro, 1972.
MANNONI, M. (1976) Un lieu pour vivre. Paris, Seuil.
WINNICOTT, D.W. Realidad y jogo. Buenos Aires, Granica, 1972-
 Endereço para correspondência
Endereço para correspondência
Av. do Batel, 1920 - sala 210
80420-090 CURITIBA PARANÁ
(41) 242-2993
ledber@terra.com.br
1 Desenvolvi detalhadamente estes pontos no artigo "O que um autista e um analista podem aprender com Hamlet", publicado em Estilos da Clínica nº 7, 1999.
2 O relato de Melanie Klein sobre o caso Dick encontra-se no capítulo "A importância da formação de símbolos no desenvolvimento do ego" (1930), publicado em seu livro Contribuições à psicanálise. São Paulo, Mestre Jou, 1981, 2 ed.


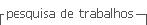








 Como citar este trabalho
Como citar este trabalho