Services
On-line ISBN 978-85-60944-06-4
On-line ISBN 978-85-60944-06-4
An. 5 Col. LEPSI IP/FE-USP 2004
Por uma não consensual política de inclusão social
For a non-consensual social inclusion politics
Regina Maria de Souza
Mestre em Psicologia, doutora em Lingüística e professora do Departamento de Psicologia Educacional da Unicamp
RESUMO
O presente trabalho discute, a partir de Foucault, as bases históricas de construção dos discursos sobre a inclusão desde as novas formas de regulamentação do Estado Moderno no século XIX. Tomando como ponto de partida algumas idéias de Rancière, revista a concepção aristotélica sobre democracia - da qual somos tributários em nossos dias - para defender a necessidade de concebermos uma política democrática fincada na inescapável realidade da impossibilidade consensual e livre de conflitos. Conclui com Derrida, destacando a importância para que o outro - diferente sempre de nós de modo não calculável - seja convocado a tecer conosco práticas sociais e escolares de inclusão, baseada na lógica de uma hospitalidade não hostil.
Palavras chaves: Inclusão social, Foucault, Derrida, Rancière
ABSTRACT
The present paper discusses, from a Foucaltian perspective, the historical foundations of the construction of the discourse on inclusion since the new forms of the Regularization of the Modern State in the 19th century. Based on some ideas by Rancière, the Aristotelian conception of democracy - to which we are tributary these days - is reviewed to defend the need of creating a democratic politics focused on the inescapable reality of an impossible and conflict-free consensus. Finally, along with Derrida, we highlight the importance to invite the other - who is always different from us in an unmeasurable way - to join us and weave social and school inclusion practices, based on the logic of an unhostile hospitality.
Key words: Social inclusion, Foucault, Derrida, Ranciére
1- Notas iniciais
"Para efeitos deste Decreto, considera-se deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade, para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano." Decreto Presidencial N. 3.298, de 20 de dezembro de 1999 (artigo 3º).
Entre 07 de janeiro e 17 de março de 1976, Michel Foucault ofereceu um curso, no Collège de France, com o título Il Fault Défendre la Societé. Um tema que atravessou todas as aulas foi o do poder, entendido em seu aspecto produtivo, ou seja, como elemento que produz efeitos tais como a produção de saberes e a legitimação de práticas que disciplinam os sujeitos e suas vidas. A presente reflexão se aterá a um efeito específico de poder, que é o do engendramento de um jogo permanente que cria, arbitrariamente, e pretende reabilitar, um contingente humano qualificado ora como "incluídos" ora como "excluídos" socialmente.
Nesta apresentação discutirei, a partir deste texto de Foucault, a polarização "incluídos x excluídos" como um subproduto do racismo de estado, decorrente, ele mesmo, do aparecimento de uma nova forma de tecnologia de poder denominada, pelo filósofo francês, de biopoder (tipo de poder que se dirige aos homens na medida em que formam uma massa global, isto é, uma população, submetida a um conjunto de processos relacionados à vida, como: nascimento, morte, doença, produtividade, lazer etc). O biopoder, quando surgiu, se integrou às outras duas invenções da modernidade, ou seja, a norma e a disciplina. Vejamos como.
Os padrões normativos naturalizados em nossa sociedade (que podemos chamar, genericamente, de "norma") cumprem a função política de articular essa nova forma de poder – o biopoder (que se aplica sobre a população) – com os poderes disciplinares (que se aplicam sobre os corpos individuais). Nessa configuração, como uma rede sem centro, esses poderes – ou forças – são exercidos, de modo mais ou menos solidário, de forma mais ou menos articulada, pelo estado, pela família, pela escola, pela clínica e pelas instituições de modo geral, sobre cada um dos corpos que compõe a massa humana populacional; de modo que, como efeito, nenhum elemento está, de fato, fora do que chamarei de "corpo social". Dito de outro modo, tanto as partes "sãs" como as consideradas "anormais" passam a lhe pertencer por direito e a ser alvo permanente de cuidados.
Considerando-se tal ponto de vista, uma questão, de natureza ética e política, que poderia ser posta é: quem (ou qual grupo) define – sustentando-se por quais tipos de saberes - o que deve, ou não, ser considerado "normal", em termos de funcionamento desse mesmo corpo?
A resposta a essa questão nos faz retornar à concepção de poder assumida por Foucault.
De fato, como dito anteriormente, Foucault (1998) entende o "poder" enquanto correlação de forças que produz efeitos.
"O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é que simplesmente ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa o corpo social muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir."( p.8).
Nessa perspectiva, a resistência – e seus efeitos transformadores – é a contraface do poder. Bom lembrar também que cada um de nós, como intelectuais que também somos, faz parte dessa rede de poderes que barra, proíbe, invalida ou legitima essa ou aquela estratégia de saber-poder. Portanto, sofremos e praticamos, permanentemente, estratégias de exclusão/inclusão entre nós – compomos associações e sociedades de pesquisa, estabelecemos fronteiras e/ou oposições com outros grupos – fabricamos, assim, o que nos é estrangeiro. Essa fabricação nos é, por outro lado, produtiva ao menos por dois motivos: firma a identidade grupal e inscreve a produção de conhecimento no espaço tenso de alianças e oposições epistemológicas.
2 - O Racismo de Estado1
"O que é o consenso senão a pressuposição de inclusão de todas as partes e de seus problemas, que proíbe a subjetivação política de uma parcela dos sem-parcela, de uma contagem dos incontados?" (Rancière, 1996, p. 116).
Como penso que nem todos possam ser leitores de Foucault, julgo importante me fazer entender sobre como compreendo o conceito foucaultiano de "racismo de estado". Como disse no início, no curso que oferece em 1976, Foucault (2000) analisa a emergência, na sociedade moderna, do biopoder - um poder que se exerce sobre a vida, é dizer, sobre o ser vivo a partir de um movimento de estatização do biológico. Esse processo de regulamentação estatal sobre o sujeito teve um percurso que se confundiu com a necessidade de o estado submeter a um processo de disciplinamento simultâneo tanto o indivíduo como a massa populacional do qual ele era parte integrante – ou antes, da qual deveria fazer parte de algum modo.
Ao fazer a genealogia da trama dessa nova forma de poder, Foucault nos lembra que, no ocidente, até aproximadamente o século XVII, a soberania ocupava-se em "fazer morrer" ou "deixar viver" quem bem lhe aprouvesse – esse era o exercício do poder divino espelhado na figura o rei ou do papa. Já o biopoder, consolidou-se a partir da metade do século XVIII, alçado no discurso da igualdade entre os homens (o poder real torna-se relativo) e nos apelos revolucionários para que a liberdade e a fraternidade fossem o alicerce da sociedade (ocidental) moderna. Essa nova forma de poder, emergente de um conjunto de rupturas políticas, se ocupará em "fazer viver" e "deixar morrer" por si, mas de uma forma protegida e silenciosa, os anormais. Dito de outro modo, todos os seres humanos passaram a ter o direito a uma vida longa até onde ela pudesse ser mantida pelo estado ou pelos organismos por ele subsidiados - preservada de forma protegida por fármacos, por medidas preventivas, campanhas informativas, pelos distintos mecanismos de intervenção política (como a seguridade social), por procedimentos de preservação da existência em UTIs, por práticas ortopédicas de correção etc. Isso significa que a vida do sujeito passou a ser uma propriedade coletiva; em outros termos, deixou de lhe pertencer. Dar condições de existência ao indivíduo, "segundo os padrões considerados normais para o ser humano" (como reza o decreto presidencial nº 3298 de 20 de dezembro de 1999), tornou-se meta do estado, da clínica, da prisão, da família etc. Objetivo também que se estendeu aos considerados "deficientes", aos quais se faz incidir um conjunto de prescrições e ações que, por sua vez, têm como objetivo fazer esmaecer as diferenças que possuem com aqueles que fazemos, para eles, seus pares.
Em muitos casos, como o dos surdos, dos imigrantes, das populações indígenas etc, tais ações têm procurado manter viva a identidade lingüística do "corpo social" em seu suposto monolingüismo, deixando morrer simbolicamente, por ensurdecimento pedagógico, as diferenças lingüísticas de seus membros. Desse modo, não se vê comprometida a tese da existência de uma unidade nacional; pelo contrário, mantém-se legitimado o controle político que a sua sustentação prescinde.
Pois bem, a esse poder que se exerce para fazer do múltiplo uno (uma população, um país, um povo), entendo que também possa se aplicar o conceito de biopoder.
Avançando um pouco mais nas idéias que aqui defendo, faz-se importante dizer que se a disciplina opera pela instituição da norma, a biopolítica opera pela regulamentação. É aí que se inscreve o problema do racismo de Estado (Foucault, 2000).
O racismo de Estado, segundo Foucault (2000), consiste numa forma de regulamentação que está muito além do poder disciplinar. Enquanto a tecnologia e os mecanismos disciplinares operam com a normalização, pela definição e reabilitação daqueles que se encontram na norma ou fora dela, a tecnologia biopolítica opera com a eliminação do degenerado a partir ou do controle mesmo de sua aparição ou do mascaramento de sua visibilidade entre nós (a inclusão pode também produzir como efeito essa invisibilidade). Nesse sentido, o exercício do racismo de Estado tem como efeito o apagamento das diferenças.
Todavia, como o poder não é propriedade nem do Estado nem de suas organizações, mas se distribui em todos os pontos do tecido social, resistências ocorrem. Em decorrência, produz-se um conflito social permanente – que se manifesta, por exemplo, nas revoltas nas prisões, na recusa militante de um grupo de surdos a se tornar parte de uma escola que fala o português, nos atos físicos e bélicos de oposição entre os distintos grupos sociais etc. A essas pressões contrárias se aplica também a biopolítica – com a invenção permanente de novas tecnologias de controle, entre elas, os programas de reforma.
Explicando-me melhor, a fabricação de uma "crise" permanente – sustentada no discurso da desigualdade ou da desqualificação (do ensino, do professor, do "deficiente", etc) – legitima o funcionamento de uma maquinaria para a produção ininterrupta de reformas, tais como aquelas que acompanhamos pelos meios de comunicação: da prisão, da escola, do sistema de saúde etc. Reformar, por exemplo, a universidade e a escola, passa a ser "o meio" para torná-las, entre outras coisas, não apenas mais "produtiva" mas mais "eficiente" em "incluir" os "excluídos". Todavia, quem planeja tais reformas é a parte que se considera "incluída", e em especial, os especialistas e os políticos. A representatividade política dos "excluídos" ainda é pequena. Por isso é que, segundo Deleuze,
"a noção de reforma é tão estúpida e hipócrita. Ou a reforma é elaborada por pessoas que se pretendem representativas e que têm como ocupação falar pelos outros, em nome dos outros, e é uma reorganização do poder, uma distribuição de poder que se acompanha de uma repressão crescente. Ou é uma reforma reivindicada, exigida por aqueles que ela diz respeito, e aí deixa de ser uma reforma, é uma ação revolucionária que por seu caráter parcial está decidida a colocar em questão a totalidade do poder e de sua hierarquia. Isto é evidente nas prisões: a menor, a mais modesta reivindicação dos prisioneiros bastar para esvaziar a pseudo-reforma de Pleven." ( citado em Foucault, 1998, p. 72).
3- A Inclusão como dispositivo
"O discurso veicula e produz poder; reforça-o mas também o mina, expõe, debilita e permite barrá-lo. Da mesma forma, o silêncio e o segredo dão guarida ao poder, fixam suas interdições; mas, também, afrouxam seus laços e dão margem à tolerância mais ou menos obscuras." (Foucault, 1999, v. 1, p. 96)
Afetada pela epígrafe acima e pelas colocações de Deleuze sobre a lógica das reformas, julgo importante que seja problematizado o fato de não consideramos "teorias", ou formas legítimas de compreensão da realidade, os saberes, por exemplo, dos grupos para os quais destinamos nossos discursos sobre a inclusão. Tomo como exemplo o caso dos surdos sinalizadores. A questão que coloco é a seguinte: porque, quando consideramos o que nos demandam, submetemos seus discursos a uma maquinaria que cria o efeito de que o principal anseio desse grupo, de se fazerem em sinais, está sendo atendido, quando não está?
O desafio criador de se pensar em uma escola para surdos, ou em uma escola diferente do que já temos, é fagocitada pela idéia de uma escola que, devidamente reformada, seja comum a todos. Dito de outro modo, mantemos a Unidade – o mesmo. Nesse momento, vou me deixar afetar pela fala de um surdo militante que me disse mais ou menos isto: O que faremos se foi retirado de nós nosso discurso (sobre a importância de ser os sinais a sua língua de instrução e de exercício de cidadania) como se fosse deles?O que faremos se eles mudaram de tal forma aquilo que reivindicávamos que não mais reconhecemos como nosso o que agora nos dão, embora alguns de nós tenhamos a ilusão de que sim, que fomos nós que requeremos o que agora nos ofertam?
Acredito que esse efeito - o sentimento do militante de ter perdido "seu" discurso ou de vê-lo subvertido a uma outra lógica interpretativa – pode ser entendido se a inclusão for compreendida, conceitualmente, como sendo um dispositivo. Segundo Foucault (1998), um dispositivo é
"um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. (...) sendo assim, tal discurso pode parecer como programa de uma instituição ou, ao contrário, como elemento que permite justificar e mascarar uma prática que permanece muda; pode ainda reinterpretar essa prática, dando-lhe acesso a um novo campo de racionalidade." (p. 244).
Desse modo, nenhuma transformação pode funcionar senão através de uma série de encadeamentos sucessivos que a insira na lógica de uma estratégia global, como efeito do funcionamento do próprio dispositivo. Mas, por outro lado, nenhuma estratégia produz efeitos globais se não se apóia em um conjunto de alianças que lhe sirvam de sustentação – por exemplo, a família, a escola, a universidade, centros de pesquisa, as religiões, o direito etc. No jogo de forças que produz, ou nas relações que se articulam a esse mesmo jogo, pode-se fazer sobreviver discursos contraditórios dentro de uma mesma estratégia, reinterpretá-los, fazê-los circular e cintilar (e não emudecê-los) para que, em sua visibilidade, possam ser incluídos na trama de táticas que os amoldam às urgências históricas as quais deve um dispositivo atender.
Daí decorre que não se trata de que os anormais não sejam ouvidos em suas demandas, mas sim que suas reivindicações são submetidas a uma maquinaria que faz da audição não uma escuta, mas uma tática que converte, mesmo que de modo deformado, aquelas reivindicações em parte de uma estratégia global de assimilação, nas fronteiras do possível tracejado pelo dispositivo. Cria-se ai outro efeito: o do consenso democrático.
Segundo Rancière (1996), desde os gregos, a democracia deveria fazer retornar ao povo a liberdade de decidir seus rumos. Como exercício do povo (demo), a liberdade é de direito parte dessa parcela que não possui bens (em oposição aos oligoi) e nem a virtude ou excelência (areté) que se atribui aos melhores (aos aristoi). Tal como pensada pelos gregos, a liberdade, como direito inequívoco a ser garantido ao povo, desnuda a impossibilidade mesma de igualdade na democracia: "o povo nada mais é que a massa indiferenciada daqueles que não têm nenhum título positivo – nem riqueza, nem virtude – mas que, no entanto, têm reconhecida a mesma liberdade que aqueles que os possuem " (Rancière, 1996, p. 23). Há, então, no cerne da democracia uma igualdade impossível pela própria lógica do ideário que a teceu como política de gestão da pólis. Todavia, vale reforçar: no projeto democrático, a liberdade, como atributo a ser garantido e extensivo a todos, faz do demos o lugar onde o múltiplo deveria se fazer um.
Da ilusão da efetividade da participação política do povo, diretamente ou por seus representantes, fabrica-se o que chamamos de consenso. O que está na lógica do consenso é que o excluído não é o que está fora, mas aquilo ou aquele que pode fazer unir um de dentro com um de fora (Rancière, 1996). A democracia, compreendida como entendimento coletivo, requer, para ser mantida, o engendramento de estratégias para trazer a diferença para dentro, fazendo perpetuar a lógica (ilusória) do consenso; consenso feito uma espécie de espelho no qual cada indivíduo deveria, de algum modo, reconhecer-se como parte.
No rastro de nossas idéias, o ideário democrático, base de boa parte do estado ocidental, ofereceu solo propício para a trama articulada da tessitura da norma (como fotografia curvilínea de um consenso supostamente factual), do biopoder e da transformação da inclusão em dispositivo. Dispositivo que, ao se apropriar e submeter a certas fórmulas interpretativas o discurso do outro, produz como efeito a ilusão de que os anseios dos surdos, por exemplo, são também daqueles que estão reformando a escola para eles; ou, dito de outro modo, cria a sensação de que suas demandas (as dos surdos) foram consensualmente contempladas nas reformas pensadas para eles, pelos especialistas e políticos, quando o foram apenas de modo calculável.
Se assim for, para parafrasearmos Derrida (Derrida e Dufourmantelle, 1997), nosso projeto inclusivo oferece ao estranho ou ao diferente, uma hospitalidade que não conseguiu deixar de ser hostil.
4 – Por uma política das diferenças
"O que o consenso pressupõe, portanto, é o desaparecimento de toda distância entre a parte de um litígio e a parte da sociedade. É o desaparecimento do dispositivo da aparência, do erro de cálculo e do litígio abertos pelo nome do povo e pelo vazio de sua liberdade. É, em suma, o desaparecimento da política". Rancière, 1996, p. 105.
Em De que amanhã , Roudinesco pergunta a Derrida o que ele quer dizer quando usa o termo hospitalidade. O filósofo responde a ela: "acolher de forma inventiva, acrescentando algo seu, (este) que vem à sua casa, este que vem a si, inevitavelmente, sem convite.". (p.76).
Talvez seja um possível caminho, para se pensar uma política da diferença, assumirmos, frente àqueles que pretendemos acolher em nossa escola, uma hospitalidade incondicional; isto significa oferecer-lhe uma hospedagem sem lhe impor pagamentos ou adaptações para que se conforme, e a seu corpo, ao tamanho da cama que lhe oferecemos. No caso daquele surdo militante, por exemplo, seria franquear-lhe a fala pelos sinais sem exigir que aprenda a ouvir com o resto que sobrou de uma cóclea danificada. Mas também seria escutá-lo com nosso olhar e correr os riscos de nos deixarmos afetar pela desordem que é falar e ouvir em outra ordem significante.
Entretanto, esse movimento de encontro com o outro demanda nos deixarmos embalar pelo desejo – às vezes angustiado – de nos expormos ao que chega. Em outras palavras, estarmos abertos ao acontecimento de sua presença, em suportarmos a dor e o sofrimento que nos causa o confronto com uma demanda não-calculável por nós, Não-calculável pois o desejo do outro não se enverga à racionalidade que impõe qualquer cálculo, escapa à previsibilidade da máquina e de suas engrenagens (os dispositivos de controle e de gestão social, orgânico, escolar etc). Em suma, a hospitalidade incondicional é se conferir potência à novidade que o estranho pode fazer surgir em nossa própria ordem; o que seria
"levar em conta" o que desafia a conta a prestar, o que desafia ou inflete de outra maneira o princípio de razão enquanto este se limita a "dar conta" (reddere rationem, logon didonai), não negar ou ignorar esse advento imprevisível e incalculável do outro – isso é também o saber, a responsabilidade científica. " (Derrida e Roudinesco, 2004, p. 66)
Seria poder oferecer a esse outro algum espaço de liberdade apesar do assédio da máquina (ou dos mecanismos de controle) que, se nos captura, não dá conta de a tudo calcular, que torna possível, naquilo mesmo que lhe escapa, o aparecimento do novo.
Nesse ponto, retomo Rancière (1996) e sua tese de que a política deve ter como base o conflito – a angustiante presença da dissonância que o outro nos impõe. Para Rancière, esse "outro" é o povo (o demos) – sempre heteróclito, contraditório e múltiplo em seu anseio. A idéia de política, por ele proposta, rompe com a "filosofia política" clássica que se caracteriza por interditar a plebe a falar de poder – de ser falante e encontrar escuta. A política, para ele, longe de controlar o conflito ou submetê-lo a uma maquinaria que o transforme em consenso, deveria conferir potência exatamente ao conflito – ou seja, tornar falante e ouvinte o estrangeiro que é cada uma das partes do povo entre si.
No rastro dessas idéias, talvez fosse útil perguntarmos qual a natureza da política de inclusão que estamos tramando. Em meu ponto de vista, há, sem dúvida, um longo caminho a ser percorrido para, nas brechas do racismo de estado, construirmos uma política de hospitalidade incondicional ao "anormal".
"A maneira como uma política nova poderia quebrar o círculo da consensualidade feliz e da humanidade denegada não é hoje nem predizível e nem decidível. Há, em contrapartida, boas razões para pensar que ela não sairá nem da inflação identitária sobre as lógicas consensuais da divisão das parcelas, nem da hipérbole que convoca o pensamento a uma mundialidade mais originária ou a uma experiência mais radical da desumanidade do humano." (Rancière, 1996, p.138)
Talvez seja esse nosso maior desafio enquanto intelectuais – fazermos gestar uma política das diferenças que, sendo hospitaleira ao diferente, não lhe seja, todavia,hostil.
Referências bibliográficas:
DERRIDA, J.; DUFOURMANTELLE, A (1997) Cosmopolites de tous lês apys, encore um effort! Paris: Galilée.
DERRIDA, J.; ROUDINESCO, E. (2004) De que amanhã... diálogos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.
FOUCAULT, M (1998) Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal Ltda.
FOUCAULT. M (1999) História da Sexualidade, v.1. Rio de Janeiro: Graal Ltda.
FOUCAULT, M. (2000) Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes.
RANCIÈRE, J. (1996) O desentendimento – política e filosofia. São Paulo: Editora 34.
1 As discussões feitas neste item podem ser lidas de modo expandido em: Souza, R. M.; Gallo, Silvio (2002) Porque matamos o barbeiro? Reflexões preliminares sobre a paradoxal exclusão do outro. Educação e Sociedade, 79, 39-64.

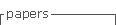









 How to cite this paper
How to cite this paper