ISBN 2236-7381 versão
impressa
ISBN 2236-7381 versão impressa
3° Encontro Nacional ABRI 2011 2011
De Caliban a Próspero - a identidade nacional e a política externa republicana: primeiras aproximações
Ludimila Stival CardosoI; Elias NazarenoII
IGraduada em Relações Internacionais, pela PUC-Góias, mestre em Comunicação, pela Universidade Federal de Goiás, com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, e aluna do Programa de Pós-Graduação em História, nível doutorado, da Universidade Federal de Goiás, bolsista da CAPES
IIPós-doutor em Sociologia pela Universidad de Barcelona com bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, Doutor em Sociologia pela Universidade de Barcelona, ex-Pesquisador Associado Sênior do IREL/UnB, Pesquisador Associado do Centro Argentino de Estudios Internacionales - CAEI
RESUMO
O Brasil de Caliban a Próspero almeja investigar a formação da identidade brasileira por meio da discussão de sua política externa, particularmente do período republicano, ou seja, de 1889 até 2010 (final do governo Lula), no sentido de tentar estabelecer conexões ou disparidades entre esses dois âmbitos.
Palavras-Chave: Brasil, Política Externa, Identidade
ABSTRACT
The Brazil of Caliban to Prosperous aims to investigate the formation of Brazilian identity through the discussion of foreign policy, particularly the republican period, in other worlds, from 1889 to date 2010 (the end of Lula's government) in order to try connections or disparities between these two areas.
Keywords: Brazil, Foreign Policy, Identity
UM ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO
O caminho que se percorreu até a prosperidade foi escolhido com base no texto de Boaventura de Sousa Santos, intitulado "Entre próspero e caliban: colonialismo, pós-colonialismo e inter-identidade" (2006, p. 227 - 276), em que o autor pretende investigar "os processos identitários no espaço-tempo da língua portuguesa, ou seja, numa vasta e multissecular zona de contacto que envolveu portugueses e outros povos da América, da Ásia e da África" (SANTOS, 2006, p. 227).
Tal investigação é fundamental porque ajuda a explicar a razão do Brasil se construir internamente como débil, inferior ou atrasado, sendo que essa perspectiva está arraigada na formação do "brasileiro", das "raças" que o constituem - índios, negros e portugueses - como engendradas pela subalternização, pelo atraso constitutivo.
Assim sendo, Boaventura começa o texto esclarecendo que Portugal vive uma situação controversa, pois, desde o século XVII, é um país semiperiférico no cenário internacional, com um desenvolvimento econômico intermédio e um Estado que nunca assumiu plenamente as características do Estado moderno dos países centrais, o que o levou a realizar uma colonização periférica, tanto nas práticas quanto nos discursos coloniais.
No que concerne às práticas, prossegue o mesmo autor, a perifericidade encontra-se em Portugal ter sido, também, por longo período, dependente da Inglaterra, quase uma "colônia informal". Já no domínio dos discursos, o caráter periférico do colonialismo português está em que, "[...] a partir do século XVII, a história do colonialismo ter sido escrita em inglês" (p. 230-231), o que significa um problema de autorrepresentação, no qual se confirma a subalternidade portuguesa pela heterorrepresentação de ser, ao mesmo tempo, colônia e colonizador.
Essa perifericidade, todavia, marca não só Portugal, mas, como se vê, as suas colônias de forma geral, entre elas o Brasil, que internaliza a perspectiva de debilidade, comprometendo o seu agir interno. Por isso, propomos um estudo pós-colonial, entendido, como explica Boaventura de Sousa Santos (2006), não apenas como o período histórico que sucede à independência das colônias, mas também "[...] um conjunto de práticas (predominantemente performativas) e de discursos que desconstroem a narrativa colonial, escrita pelo colonizador, e procuram substituí-la por narrativas escritas do ponto de vista do colonizado" (p. 233).
Dessa forma, o estudo pós-colonial, visto por meio das práticas e discursos, apresenta um viés culturalista, em que se enxerga a cultura nacional "como direito do colonizado à auto-significação" (SANTOS, 2006, p. 239), reconhecendo a presença da heterogeneidade na ideia de identidade.
Estudaremos, em razão disso, a história nacional e a identidade brasileira como pano de fundo ou suportes para o objeto: a política externa da república e sua contribuição para a construção da nação, cabendo-nos atenção especial de como se forma a noção de identidade, o que implica revisitar teóricos importantes como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire e José Murilo de Carvalho, entre outros.
Ou seja, nosso foco é a política externa brasileira e sua relação com a identidade nacional, que o senso comum considera como retas paralelas, em que a política externa nada, ou muito pouco, tem a ver com o pensamento que se constrói sobre o Brasil, visto internamente como Caliban, débil, atrasado e inferior, não só em função do país que o colonizou (Portugal), mas também das "raças" que o compõem (índios e afro-descendentes, principalmente); e externamente como Próspero, possuindo uma ação consideravelmente austera, de liderança no cenário sul-americano.
Esta se constitui, então, uma oportunidade para confirmarmos ou mudarmos tal noção e vermos se somos Prósperos ou Calibans ou, ainda, carregamos essa dualidade como uma característica intrínseca ao "ser brasileiro".
BRASIL, EXTERNA E INTERNAMENTE: ALGUMAS DISCUSSÕES
O estudo do Brasil como uma nação Caliban e Próspera escolhe, por razões que serão apresentadas adiante, se debruçar sobre o período republicano porque, como esclarece Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos (2004), a independência brasileira significou continuidade com as ideias dinástico-religiosas de legitimação do Estado, o que levou a imensas dificuldades para a conformação da identidade nacional, que se ancorava "na natureza, na colonização e em uma leitura irreal do elemento indígena tornado ‘brasileiro’" (p. 134).
Além disso, segundo José Murilo de Carvalho (1990), os republicanos tinham a tarefa de construir uma nação, substituindo um governo. Isto é, a eles foi dada a tarefa de elaborar todo um imaginário, para legitimar o regime político que nascia e atingir o coração, "as aspirações, os medos e as esperanças de um povo" (p. 10), colaborando para que as sociedades definam suas identidades, objetivos, inimigos, passado, presente e futuro, baseando-se em ideologias, utopias, símbolos, alegorias, rituais e mitos.
Nesse contexto, grande parcela da população brasileira foi excluída da identidade, quais sejam os escravos, mestiços e muitos indígenas, pois não cabiam na perspectiva do Brasil como "o amplo território comum legado pela natureza, cuja unidade foi preservada pelo colonizador" e "por uma literatura que enxergava as origens da pátria no heroísmo de míticos indígenas ancestrais" (SANTOS, 2004, p. 134).
Essa exclusão levou à debilidade de qualquer possibilidade de construção de cidadania, pois além de alijar grande parcela da sociedade, a república nasce colocando, segundo Carvalho (1990), ênfase no Estado, em razão da tradição estadista do país e da falta de espaços ocupacionais oferecidos pela sociedade escravocrata, levando as pessoas a recorrerem diretamente ao emprego público e a se inserirem politicamente por meio do Estado, garantindo o que o autor denomina, mais apropriadamente, como Estadania, ou seja, uma cidadania conseguida por meio do Estado, e por isso, débil, já que a sociedade era - e ainda o é, apesar das melhorias - profundamente desigual e hierarquizada.
Toda essa construção de identidade e de história, empreendida também, e, sobretudo, pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que objetivava criar uma historiografia "genuinamente brasileira", baseada na assimilação das diferentes "raças" formadoras do Brasil, como ratifica Santos (2004), demonstra a impossibilidade do Brasil de se posicionar favorável à América, considerada instável e anárquica, enquanto o Império era próspero, civilizado e "europeu".
Essa noção altera-se apenas com a República, quando, para o mesmo autor, o Brasil busca legitimar uma ideia ampla de nação e se integra à América. Por isso a escolha desse período para estudo, momento que se rompe como Antigo Regime e se constrói um país bastante controverso: ainda próspero, porque fez a proclamação sem derramamento de sangue, conserva-se com enorme território e grandes recursos, o que, para Moniz Bandeira (2008), poderia colocar o Brasil como potência, sobretudo no cenário internacional, pois "um país tanto mais terá condições de afirmar-se como potência quanto mais extenso for e quanto mais numerosa seja sua população e os recursos que pode mobilizar para a consecução de uma política" (p. 01).
Ou seja, no meio internacional o Brasil apresenta-se como potência, possuindo poder, entendido como "a habilidade de um ator de prevalecer em um conflito e superar os obstáculos, se usa com vantagem seus recursos" (BANDEIRA, 2008, p. 01). Essa perspectiva se faz presente desde a segunda metade do século XIX, quando o Brasil já se configurava como uma potência regional.
De mais a mais, o Brasil possuía, já nesse período, um aparelho burocrático-militar capaz de defender ou impor os interesses da elite dirigente, seja interna ou externamente, já que o Estado português aqui se colocou, ajustando-se às condições econômicas, políticas e sociais da colônia e preservando o panorama institucional, baseado na soberania una e indivisível da Coroa, na hierarquia, nas leis civis, nos métodos administrativos, no estilo político, no instrumental bélico e diplomático. Tudo isso fez do Brasil um país com Estado forte e autoritário, no qual a dominação legal/racional, predominante no Estado de direito, cede passo invariavelmente ao Estado de exceção.
O Estado português é, entretanto, como já apontado, periférico, porque, segundo Boaventura de Souza Santos (2006), se constitui no século XVI como um país semiperiférico no sistema mundial, em função de seu desenvolvimento econômico e sua posição intermediários em relação à economia-mundo, e nunca assumiu com plenitude as características do Estado moderno dos países centrais.
Assim, Portugal pode ser visto como o próspero, por ser o colonizador, mas também o caliban, em razão da maneira que é percebido na Europa, como o qualifica Santos (2006), o que nos leva a pensar o Brasil, concomitantemente, como próspero e caliban. Primeiro pela grandeza territorial e de seu peso geopolítico; segundo, pela identidade nacional estar baseada em uma colonização "subalterna" e da formação do "povo brasileiro" por meio de raças subalternas: índios e negros.
Nessa realidade a configuração de poder se mostra ainda mais colonial, porquanto ele se reafirme tanto sobre Portugal quanto sobre sua colônia, ou seja, o fim da colonização política não redundou em fim de submissão social, o que nos leva a pensar no conceito de Quijano (2005) de Colonialidade do Poder, fundamentado na perspectiva de "raça", retirando a procedência geográfica e conotando novas identidades, hierarquias e papéis sociais, o que serviu para "outorgar legitimidade às relações de dominação impostas pela conquista" (p. 02).
Tal dominação se torna ainda mais exacerbada com a expansão do colonialismo europeu e a nova identidade européia em contraposição à América, pois, como explica Quijano (2005), esse cenário conduziu à elaboração teórico/prática, até então inaudita, da noção de raça como a "naturalização" das relações coloniais de dominação entre europeus e não europeus, legitimando a dicotomia superioridade/inferioridade. Isto é, "os povos conquistados e dominados foram postos numa situação natural de inferioridade, e consequentemente também seus traços fenotípicos, bem como suas descobertas mentais e culturais" (p. 02).
Em razão disso, se fundamenta o caráter eurocentrado do padrão de poder e de produção científica do conhecimento a partir de um determinado lugar (o Ocidente), permitindo a consolidação da colonialidade do poder e do saber. Além disso, a guerra de conquista é colocada como justa porque se faz contra "bárbaros", com o objetivo de civilizá-los e torná-los humanos.
Os europeus realizariam, então, uma missão civilizadora na América, pois, segundo Ginés de Sepúlveda, em estudo de Enrique Dussel (2008), a práxis da dominação colonial se fundamenta na noção de que a cultura dominante outorga à outra os benefícios da civilização.
Em nome dessa "missão", todos os procedimentos adotados seriam válidos e justificáveis, porque era justa a guerra e fundamentada, ao mesmo tempo, politicamente, já que pela Bula Inter Caetera de 1493, firmada pelo Papa, Deus havia dado aos europeus grande parte do reino Dele, cabendo aos mesmos propagar as verdades cristãs e, ainda, salvar as vítimas dos sacrifícios humanos aos deuses, feitos pelos povos ameríndios (DUSSEL, 2008).
Este pensamento de justificação filosófica da dominação européia sofreu, todavia, algumas críticas, entre elas a de Bartolomé De Las Casas, que se pergunta se os índios não seriam homens como os europeus, ou se estes não deveriam amá-los como a eles mesmos.
Las Casas, retomando Dussel (2008), refuta a pretensão de superioridade da cultura ocidental, face à barbárie das culturas indígenas; diferencia a noção de outorgar ao outro a pretensão de que sua verdade seja universal, sem deixar de querê-la também em relação ao Evangelho, e demonstra a falsidade da ideia de que a conquista era necessária para salvar as vítimas dos sacrifícios humanos. Isso porque os que se chamam "cristãos" retiraram os povos de suas terras por meio de uma guerra cruel e sangrenta. E, depois, os lançaram a uma dura servidão.
Assim, Las Casas constrói um pensamento contra esse projeto de modernidade em defesa da "arte de convencer": busca-se conquistar o Outro por sua livre vontade, sem imposição da força, mas sempre pensando no domínio, de uma forma mais sutil: por intermédio da persuasão, garantindo a ele o status de Outro, de dignidade para, depois, conquistá-lo. Assim, o mesmo não se torna um instrumento, como acabou ocorrendo com a derrota de Las Casas nesse confronto de ideias.
Essa derrota marca o direito à dominação, como argumenta Dussel (2008), da natureza das coisas e fundamento de toda a filosofia moderna, que parte do pressuposto (mesmo que oculto) de que não é necessário justificar racionalmente a dominação européia baseada na exploração da periferia, mesmo que tal filosofia tenha uma legitimidade um tanto débil, em função das injustiças cometidas.
A noção de periferia, portanto, parte da perspectiva de naturalização da inferioridade que, como se vê, é um processo constitutivo das ex-colônias - e também de Portugal -, entre elas o Brasil, o que, para Nísia Trindade Lima (1999), significa a noção de atraso histórico, levantando a necessidade de investigar o país, visto "como o principal problema a ser investigado" (p.17). Não faltam, pois, tentativas de interpretá-lo ou de entender sua fisionomia e seu conceito.
Por isso, o que buscamos, assim como Walter Mignolo (2009) em seus trabalhos, é explorar novas formas de pensar acerca do que já sabemos, ou seja, de pensar a identidade nacional, em vez de acumular novos conhecimentos concebidos nas velhas formas de pensar, tendo em mente que quando falamos do mundo, apresentamo-nos a nós mesmos, somos parte (participantes) do mundo que descrevemos.
Esse novo olhar faz-se necessário porque debateremos sobre "raças" subalternizadas - índios e negros - e de uma que carrega a inferioridade, mesmo que dentro de uma sociedade considerada e construída como superior - Portugal dentro da Europa. Daí buscarmos uma metodologia diferente: comparativa, mas nos perguntando quem compara o que, por que e como, entendendo, baseado em discussão de Mignolo (2009), que as culturas não são fundamentadas em uma única lógica, que uma mente científica observa, disseca e compara.
Isto porque, como explica o mesmo autor, nos interessa mais nos colocar como parte e parcela do sujeito comparado, pois fazemos parte de uma língua que foi colonizada (português) e excluída da ciência durante o processo de colonização, cabendo-nos perceber que lugares nos foram reservados nessa perspectiva de controle e manipulação que representaram esses encontros coloniais, como deseja Mignolo (2009) por meio do conceito de Semiosis Colonial.1
Assim, queremos colaborar no entendimento do passado, mas falando do presente, a partir de um discurso erudito que relacione o tema, a audiência, o contexto de descrição e o locus de enunciação através do qual alguém fala e transforma ou mantém sistemas de valores e crenças(MIGNOLO, 2009).
Recorremos, então, à Semiosis Colonial, como já dito, por meio de uma aproximação filológica, subscrita por Mignolo (2009), porque partimos da perspectiva de que o mundo da identidade e da política externa brasileira irá, parafraseando o mesmo autor, dizer mais do que pensamos e menos do que esperamos, porquanto nosso estudo também recairá sobre "o dizer da gente", o que nos leva a preocuparmos com os eventos e artefatos culturais, e os discursos que se formam a partir dos mesmos e de uma comunidade específica.
Corroboramos, dessa forma, com a noção metodológica de Mignolo (2009), porque consideramos ser a melhor maneira de trabalhar com uma realidade que une uma identidade construída por membros de tradições completamente diferentes, alterando nossa própria forma de entender; baseada em relações de poder nas sociedades subalternas que foram formadoras da ideia de Brasil. E, ao mesmo tempo, uma política externa em que o Brasil apresenta-se como potência, possuindo poder, entendido, como já apresentado, a partir da conceituação de Moniz Bandeira.
Toda essa potência foi direcionada, historicamente e logo de início, como argumentam Clodoaldo Bueno e Amado Luiz Cervo (2002), para a América do Sul, sobretudo a região do Rio da Prata, isto é, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, pelo menos, até a segunda metade do século XX, isso porque, como narra Moniz Bandeira (2008), "o abastecimento de Mato Grosso, Goiás e parte de S. Paulo dependia, quase que totalmente, da navegação fluvial", o que transformava a livre navegação nos rios da bacia do Prata em motivação para guerra, no período do Império.
Ademais, outra preocupação até a primeira metade do século XX foi a solução das questões de limites no Amazonas, haja vista as florestas e a Cordilheira dos Andes. Em função desses problemas, o Brasil usou como justificativa para a demarcação das fronteiras, segundo Moniz Bandeira (2008), a doutrina do uti possidetis, prevalecendo a ideia da nacionalidade e uma política externa coerente, racional e contínua.
Exemplos dessa dinâmica não faltam, entre eles estão o Barão do Rio Branco (José Maria da Silva Paranhos), que foi ministro das Relações Exteriores por dez anos (1902-1912) e pautou-se, enumeram Bueno e Cervo (2002), pelas seguintes diretrizes: "[...] a busca de uma supremacia compartilhada na área sul-americana, restauração do prestígio internacional do Brasil, intangibilidade de sua soberania, defesa da agroexportação e, sobretudo, a solução dos problemas lindeiros" (p. 177).
Essas questões mostram certa permanência na política externa brasileira, sobretudo o prestígio internacional, o que, por exemplo, teria levado o Brasil a participar da Conferência de Paz de Versalhes e da organização internacional que então surgiu, a Sociedade das Nações, já que o ministro das relações exteriores, Domício da Gama, desfrutava de tal prerrogativa, levando o país a ser membro temporário do Conselho da Sociedade das Nações (SDN). Mas o Brasil almejava, desde 1921, um posto permanente no Conselho da SDN, pretensão recusada pelos seus Estados membros em reuniões secretas, provocando a renúncia brasileira ao seu lugar temporário, após ter não vetado a entrada da Alemanha no Conselho por uma decisão do presidente da república, Artur Bernardes, que visava angariar apoio interno, aguçando o sentimento nacional. (BUENO & CERVO, 2002). Tal reivindicação, contudo, permanece nos dias atuais em relação a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU.
Evidente que outros assuntos entraram em pauta, como a integração regional, os Direitos Humanos ou o neoliberalismo, o que modificou a política externa, seja colocando-a dentro da noção de Estado Normal, em que, conforme Bueno e Cervo (2002), se criticou e reviu as estratégias internacionais do passado, adotou-se de forma acrítica uma ideologia imposta pelos centros hegemônicos de poder2, eliminou-se as ideias de projeto e de interesses nacionais e corrigiu-se o movimento da diplomacia.
A alteração da política externa, entre 1995 e 2002, ocorreu muito em função da política interna e das matrizes teóricas que marcam e direcionam o pensar e agir do então presidente da república, Fernando Henrique Cardoso. Segundo Durval Muniz de Albuquerque Júnior, em artigo recente denominado "Um convite à reflexão: dois projetos radicalmente diferentes", FHC foi um dos formuladores da Teoria da Dependência, precisamente dentro da chamada corrente weberiana, contrária à marxista e ao pensamento cepalino (vindo da Cepal).
Cardoso se propõe, então, como presidente, a "enterrar" a era Vargas e realizar o projeto da teoria da dependência, por meio do desmonte do Estado nacional-desenvolvimentista e populista e das empresas nacionais, sobretudo quando privatizou uma série delas, entregando-as aos capitais internacionais, o que demonstra sua adesão às práticas neoliberais. Ademais, FHC, por meio de sua teoria, pensava que o subdesenvolvimento nacional era fruto do próprio progresso dos países desenvolvidos, mas acreditava, e assim agiu quando presidente, que o Brasil só progrediria se a direção fosse dada pelos países centrais do sistema, pois as forças nacionais não seriam capazes de garantir tal processo3.
Fernando Henrique estabeleceu, então, uma política externa condizente com a interna, em que priorizou relações Sul-Norte, em nome de uma tríplice mudança interna considerável - democracia, estabilidade monetária e abertura econômica. Para Bueno e Cervo (2002), essa política significa um equívoco de substância, que se altera no período Lula (2003-2010), quando se retoma, de certa maneira, a tradição do Estado Desenvolvimentista, em que esse se torna empresário, superando parte das dependências econômicas estruturais por intermédio do desenvolvimento nacional.
O parentesco das formulações políticas, sociais e econômicas do governo Lula com o nacional desenvolvimentismo é inegável, sobretudo com o pensamento de Celso Furtado, que "sempre apostou no Estado como indutor de uma política de industrialização capaz de produzir o desenvolvimento, apesar da dependência externa". Isso porque, assim como a Teoria da Dependência, Furtado entende que o subdesenvolvimento advém do próprio desenvolvimento do capitalismo, que ocorre de forma desigual, gerando um centro e uma periferia do sistema e reproduzindo subordinadamente a dinâmica das economias centrais e seus modelos. Mas ambas divergem em como realizar o desenvolvimento mesmo na periferia4.
No governo Lula, então, vislumbra-se uma possibilidade de desenvolvimento capitalista realizado pela periferia, a partir de uma aliança estratégica entre empresariado nacional, Estado e classes trabalhadoras, por um lado, e os setores externos, por outro, em que se uniu uma política econômica e social de distribuição de renda - o Bolsa Família - e valorização do salário mínimo. Essas medidas criaram um "mercado de consumo de massas no Brasil, com a ascensão de parcela significativa da população para as classes médias, e a retirada de outras tantas da linha da pobreza absoluta". (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2010).
Esse desenvolvimento nacional descrito acima possui íntima relação com a política externa empreendida no período, porque, segundo Albuquerque Júnior (2010), o mundo se alargou, não se vendo mais apenas o Norte, "[...] enfatizando a diversificação dos mercados e das relações políticas, diplomáticas e culturais, enfatizando as relações Sul-Sul".
O regional ganha, então, destaque, principalmente no que se refere à integração, argumentam Nazareno e Tavares Neto5, vista como estrategicamente recomendável para enfrentar a globalização e responder a interesses econômicos de tendência em criar mercados de grande alcance, impulsionando o comércio exterior, a atração de investimentos externos necessários à modernização econômica, a competitividade e a articulação das economias em desenvolvimento com a economia mundial.
Em razão da importância desse processo de regionalização, o Brasil vem assumindo, narram os mesmos autores, posição de liderança no que se refere à integração física, fundamentada na infraestrutura e logística da região sul-americana, por meio da Iniciativa de Integração e Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA)6, que visa interligação e estrutura nas áreas de telecomunicações, energia e transportes, modificando o desenho geopolítico da região e colocando o Brasil com um importante papel político, o retorno a uma política externa mais voltada aos interesses regionais; e econômico, por meio do financiamento de obras.
Isto ocorreu por uma alteração, sobretudo a partir de 2003, na postura brasileira e também, argentina, constatada por Cervo (2003): "recuperaram a autonomia decisória em matéria de relações internacionais, sem o que nada de benéfico se alcança" e "[...], definiram novas linhas de força para a política exterior, próximas dos interesses de ambos os países".
A mudança de atitude refletiu-se, para Nazareno e Tavares Neto, na forma como o governo brasileiro trabalhou o tema da integração na América do Sul, buscando estreitar alianças com os países da região, para além do Mercosul, no sentido de agregar parceiros estratégicos e fortalecê-lo, como é o caso da aproximação com a Bolívia, o Chile e a Venezuela.
O Brasil, portanto, ao que tudo indica, afirmam os mesmos autores, assumiu o seu papel na região, como país de maior relevância econômica e condutor do processo de integração, o que representa uma política de Estado e não de governo.
Percebe-se, pois, que tanto no governo de Fernando Henrique Cardoso quanto no de Luís Inácio Lula da Silva, há certa proximidade entre política externa e agir interno, asseverando que apesar dessas duas áreas encontrarem-se separadas, elas podem fazer correspondência, corroborando ou pelos menos problematizando a noção de atraso presente na brasilidade.
Concomitante a isso, nota-se também que, no que concerne à política externa brasileira, sobretudo em suas pautas e, em grande parte, na maneira de se colocar frente a essas questões, existe relevante continuidade. Isso demonstra, muitas vezes, um significativo caráter autônomo dessa política frente à imagem ou identidade brasileira, baseada na noção de inferioridade, que vem desde o processo de colonização, como o discute Dussel (2008), e em perspectivas como o atraso histórico e a debilidade ou incompetência, que seriam inerentes ao "ser brasileiro".
Assim, a política externa e a identidade brasileiras podem se aproximar - como os exemplos mostraram - mas, na maioria das vezes, se distanciam por se colocarem em campos diametralmente opostos: externamente somos prósperos; internamente somos calibans. E é justamente essa dicotomia que intriga tanto, pois como pode um país ter uma identidade aparentemente tão débil, fundamentada em vocábulos como atraso, inferioridade e incompetência e possuir uma política externa tão sólida, contínua e austera, colocando-se como liderança, sobretudo, na América do Sul e em alguns temas amplos do cenário internacional?
Nesse sentido, partimos da perspectiva de que existem aproximações entre a política externa republicana e a identidade nacional, mesmo porque objetivamos, particularmente, investigar por que um país visto, muitas vezes, como débil internamente, pode ter uma política externa tão consolidada. Ou ainda: por que a dificuldade de construção da identidade brasileira não se reflete na política externa do Brasil.
Essas questões nos levam a voltar ao período da formação territorial brasileira, momento em que "praticamente" se definem as fronteiras nacionais, aspecto importante, segundo Alexandre Martins de Araújo (2010), porque "a memória coletiva tem seu ponto de apoio sobre as imagens espaciais" (p. 15). Isso significa que a ideia de nação também está fundada na territorialidade; no caso brasileiro, em grande parte, a integridade territorial poderia ter sido garantida pelos povos indígenas, por meio das missões e dos aldeamentos, interferindo na nossa identidade e, em especial, na formulação da política externa.
Percebemos, mais uma vez, que aproximando essas duas áreas tão separadas, poderemos ver como a nação se constrói e se transforma também em função da política externa. O que torna possível entender, ao mesmo tempo, de que maneira a inflexão do princípio da inferioridade se apresenta na política externa brasileira, principalmente a partir de 1889 - Proclamação da República.
Daí a disparidade: o Brasil se apresenta, ou fabrica uma imagem para consumo externo, como país detentor de força , mas coloca-se no âmbito interno como atrasado, ou melhor, como um país dual, corroborando Nísia Trindade (1999), isto é, um país desenvolvido no litoral, que representa mais que uma localização geográfica, um tipo de mentalidade especificamente elitista; todavia, refratário ao desenvolvimento no sertão, onde se vê, por excelência o "ser brasileiro", pois o sertanejo é multifacetado, não mais apenas índio ou negro, mas uma "mistura" de caracteres e tipos sociais, o que o coloca como autêntico e, portanto, representante do que seja a Nação.
A dualidade do brasileiro é perceptível, portanto, não só na identidade, mas reflete-se também na política externa, fazendo com que um sertanejo possa ser a síntese da Nação e também possamos construir uma política externa de defesa dos interesses julgados como nacionais.
Enfim, parte-se do seguinte questionamento: de que forma (ou se) uma área vista como alheia à nação pôde colaborar na sua transformação, modificando como esta se enxerga, mesmo em uma realidade como a brasileira, em que há alteridades diversas, mas coexistentes, formando "relações de diferença" bastante marcantes.
Toda essa problemática nos força a procurar novos caminhos, cabendo-nos encontrar formas de problematizar esses dois campos - política externa e identidade nacional -, que atuam como pêndulo, aproximando-se e distanciando-se, dependendo do contexto social em que se façam atuar. Essas formas, todavia, precisam ser novas, ou, bricolagem, porquanto grande parte das visões disponíveis é insensível a esse movimento pendular.
CAMINHOS ESCOLHIDOS: OUTRA HERMENÊUTICA É POSSÍVEL
A visão dual do Brasil que se nos apresenta demonstra que não podemos nos prender no pensamento moderno ocidental, ou seja, na forma de pensar recorrente, pois este, como argumenta Boaventura de Sousa Santos (2010), é abissal, consistindo em um sistema de distinções visíveis e invisíveis, que divide a realidade em duas linhas radicais: o universo "deste lado da linha" e o universo "do outro lado da linha", excluindo este último de existência, ou seja, "o outro lado da linha" passa a não existir, "sob qualquer forma de ser relevante ou compreensível" (p. 32). Isso porque, prossegue o mesmo autor, o pensamento abissal se caracteriza pela impossibilidade de copresença dos dois lados.
Assim ratifica o referido autor acerca da exclusão que se faz do "outro lado da linha" e explica as consequências de tal escolha: "O outro lado da linha alberga apenas práticas incompreensíveis, mágicas ou idolátricas. A completa estranheza de tais práticas conduziu à própria negação da natureza humana de seus agentes"(SANTOS, 2010, p. 37).
Vislumbra-se, a partir de tais esclarecimentos, porque nossa pesquisa precisa se postar sob novo prisma, já que lidamos com sociedades colocadas do "outro lado da linha", quais sejam, índios, afro-descendentes e portugueses - estes estariam fora porque representam o colonial, que é, justifica Boaventura de Sousa Santos (2010), a ausência de lei, o estado de natureza.
Olharemos, portanto, sob nova perspectiva o problema que se nos apresenta, reconhecendo que precisamos de uma hermenêutica diferenciada, que consiga, tal qual explica Mignolo (2009), superar as distâncias existentes entre duas ou mais culturas independentes, seja na sua forma de filosofar ou se tornar inteligível, assim como se coloca a hermenêutica diatópica7.
Tal hermenêutica pode, se avançarmos no conceito, ser pluritópica, sendo esta, discorre Mignolo (2009), mais que um exercício acadêmico, uma reflexão sobre a política de uma investigação intelectual e uma estratégia de intervenção cultural, porquanto se considere os interesses sociais e humanos presentes no ato de contar uma história ou criar uma teoria, sendo esta a possibilidade que temos de construir lugares de fala (locus de enunciação), que leve em conta as sociedades que estão em voga nesse estudo.
A escolha por tal caminho se deu também pelo compromisso ético da hermenêutica pluritópica, a qual, explica mais uma vez Mignolo (2009), visa olhar a configuração do poder e da dominação para entender as diferenças culturais, o que representa um desafio, já que se desprende dos fundamentos filosóficos e metodológicos estabelecidos pela hermenêutica monotópica, que mantém a universalidade da cultura européia e justifica a tendência de seus membros em perceberem-se como ponto de referência para avaliar as demais culturas.
Daí privilegiarmos a perspectiva comparativa, que nasce da característica humana de discernir diferenças para construir identidades, fundamentando-se em uma descrição que significa interpretação e não correspondência, isto é, o relato "certo" de um tema na forma de conhecimento ou compreensão será negociado nas respectivas comunidades de interpretação - correspondência com o que se considera real e legitimidade do locus de enunciação (MIGNOLO, 2009).
Em função desses argumentos, colocamo-nos como participantes no processo de construir esse locus de enunciação, que nos permita enxergar o problema apresentado nesse trabalho, possibilitando a fala de seus agentes, ou seja, a fala de quem tem parte na construção da identidade nacional e na elaboração da política externa brasileira, isso porque se aos últimos é dada a chance de se colocar, aos primeiros não o é, alijando, sobretudo, índios e afro-descendentes de se mostrarem como "brasileiros", ou como um dos elementos formadores da ideia de "ser brasileiro".
Essa enunciação feita até aqui sobre o objeto desse trabalho ou, é no sentido de deixar claro que a única inovação que procuramos construir é na perspectiva adotada. Não queremos ser, tão somente, originais no tema, mas mudar nossa visão de velhos assuntos, pois estes requerem uma noção diferente da realidade para serem visualizados no que têm de mais abissal, de mais obscuro e excludente, deixando ver ou instigando o olhar para facetas do Brasil, até então, diametralmente opostas e paralelas. Queremos, sim, mudar as lentes dos óculos com que percebemos o real, introduzir um pensamento que nos permita trazer à tona a bipolaridade brasileira: frágil/débil e austero/forte.
REFERÊNCIA
ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. Um convite à reflexão: dois projetos radicalmente diferentes. Disponível em: http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=17067. Acesso em: 28.10.2010.
ARAÚJO, Alexandre Martins de. Cadê a água que estava aqui? Os leitos secos na memória e na história. In: história Revista: UFG, nº 15, 2010.
BANDEIRA, Luiz Alberto Muniz. O Brasil como potência regional e a importância estratégica da América do Sul na sua política exterior. In: Revista Espaço Acadêmico, ano 8, nº 91, dezembro de 2008. Disponível em: http://www.espacoacademico.com.br/091/91bandeira.htm. Acesso em: 07.10.2010.
BUENO, Clodoaldo; CERVO, Amado Luiz. História da Política Externa do Brasil. 2ª Ed. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 2002.
CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário da república no Brasil. São Paulo: Companhia das letras, 1990.
CERVO, Amado Luiz. A instabilidade internacional (1919-1939). In: SARAIVA, José Flávio Sombra (Org.). Relações Internacionais - dois séculos de história: entre a predominância européia e a emergência americano-soviética (1815-1947). Brasília: IBRI, 2001. Capítulo 4. p. 173 - 219.
_________________. Que espera de Kischner o Brasil de Lula? Brasília: Realnet, 2003. Disponível em: http://www.relnet.com.br/CGI-bin/webObjects/RelNet. Acesso em: 15.10.2003.
DUSSEL, Enrique. Meditaciones anti-cartesianas: sobre el origen del anti-discurso filosófico de la Modernidad. Tabua rasa. Bogotá - Colômbia, nº 9, p. 153-197, jullho-dezembro de 2008.
LIMA, Nísia Trindade. Um sertão chamado Brasil: intelectuais e representação geográfica da identidade nacional. Rio de Janeiro: Revan: IUPERJ, UCAM, 1999.
MIGNOLO, Walter. El lado más oscuro del Renacimiento. Tradução de Martha Cecilia Gracía V. In: Universitas Humanística. Bogotá - Colômbia, nº 67, p. 165 - 203, janeiro - junho de 2009.
NAZARENO, Elias; TAVARES NETO, José Querino. Algumas considerações acerca das iniciativas relacionadas à Integração Física Sul-Americana.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina. In: EDGARDO LANDER (Org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Colección Sur Sur, CLACSO, Buenos Aires - Argentina, setembro 2005. p. 227 - 278.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder e classificação social. In. SANTOS, B de S. MENESES, M. de P. Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez Editora, 2010.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Entre próspero e caliban: colonialismo, pós-colonialismo e inter-identidade. In: ______________. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez, 2006. Capítulo 7, p. 227 - 276. (Coleção para um novo senso comum; v. 4).
______________. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. In: MENESES, Maria Paula; SANTOS, Boaventura de Sousa (Orgs.). Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2010. Capítulo 1, p. 31 - 83.
SANTOS, Luis Cláudio Villafañe Gomes. O Brasil entre a América e a Europa: o império e o interamericanismo (do Congresso do Panamá à Conferência de Washington). Apresentação do embaixador Rubens Ricupero. São Paulo: Editora Unesp, 2004.
1. É uma expressão usada para sugerir um processo - mais que lugares - nos quais "a gente" interatua. Um conceito performativo de interação semiótica que permite ver os encontros coloniais como um processo de controle e manipulação e não transmissão de significado e representação, mudando a perspectiva com que se vê o estabelecimento do Novo Mundo durante o século XVI, concedendo voz à periferia colonial desde onde se percebe o Renascimento Europeu, ou seja, colocando no primeiro plano as "histórias" que os homens europeus negaram a esses "povos", dentro de um panorama de coexistência engendrado por uma luta em nome de poder, dominação e resistência (MIGNOLO, 2009).
2. O Brasil aplicou as gerações de reformas sugeridas pelo Consenso de Washington: políticas de rigidez fiscal e, estrutura regulatória estável e transparência nos gastos públicos (BUENO E CERVO, 2002).
3. ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. Um convite à reflexão: dois projetos radicalmente diferentes. Disponível em: http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=17067. Acessado em: 28.10.2010.
4. (idem).
5. Artigo intitulado "Algumas considerações acerca das iniciativas relacionadas à Integração Física Sul-Americana".
6. Proposta consolidada no ano 2000, em uma reunião na cidade de Brasília e ratificada à época por doze países sul-americanos: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela; com o propósito de verticalizar as discussões e as ações que impulsionassem o processo de integração física da região, como estratégia de desenvolvimento sul-americana. (NAZARENO & TAVARES NETO).
7. Perspectiva que se coloca em termos de pluralidade das tradições culturais e por meio das fronteiras culturais, já que seu criador, Raimundo Pannikar, é um historiador da religião que examina a tradição metodológica comparativa moderna (clássica) implementando uma estratégia comparativa epistemológica e metodológica emergente moderna (colonial), perguntando quem compara o que, por que e como, refutando a ideia de que as culturas são monológicas e promovendo a análise do processo de transculturação, no qual o sujeito comparado é parte (MIGNOLO, 2009). Assim, a hermenêutica diatópica é "el método de interpretación requerido cuando la distancia que hay que superar, necesaria para cualquier conocimiento, no solo es una distancia dentro de una cultura única [...], o temporal [...], sino más bien la distancia entre dos (o más) culturas, que han desarrollado independientemente en diferentes espacios (topoi) sus propios métodos de filosofar y formas de alcanzar inteligibilidad y sus propias categorias" (PANIKKAR apud MIGNOLO, 2009, p. 188).


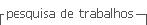








 Como citar este trabalho
Como citar este trabalho